"Não tem porque interpretar um poema. O poema já é uma interpretação." (Mário Quintana)
Aos Mestres, com carinho!

Drummond, Vinícius, Bandeira, Quintana e Mendes Campos
terça-feira, 30 de junho de 2015
segunda-feira, 29 de junho de 2015
O Poema do Semelhante

O Deus da parecença
que nos costura em igualdade
que nos papel-carboniza
em sentimento
que nos pluraliza
que nos banaliza
por baixo e por dentro,
foi este Deus que deu
destino aos meus versos,
Foi Ele quem arrancou deles
a roupa de indivíduo
e deu-lhes outra de indivíduo
ainda maior, embora mais justa.
Me assusta e acalma
ser portadora de várias almas
de um só som comum eco
ser reverberante
espelho, semelhante
ser a boca
ser a dona da palavra sem dono
de tanto dono que tem.
Esse Deus sabe que alguém é apenas
o singular da palavra multidão
Eh mundão
todo mundo beija
todo mundo almeja
todo mundo deseja
todo mundo chora
alguns por dentro
alguns por fora
alguém sempre chega
alguém sempre demora.
O Deus que cuida do
não-desperdício dos poetas
deu-me essa festa
de similitude
bateu-me no peito do meu amigo
encostou-me a ele
em atitude de verso beijo e umbigos,
extirpou de mim o exclusivo:
a solidão da bravura
a solidão do medo
a solidão da usura
a solidão da coragem
a solidão da bobagem
a solidão da virtude
a solidão da viagem
a solidão do erro
a solidão do sexo
a solidão do zelo
a solidão do nexo.
O Deus soprador de carmas
deu de eu ser parecida
Aparecida
santa
puta
criança
deu de me fazer
diferente
pra que eu provasse
da alegria
de ser igual a toda gente
Esse Deus deu coletivo
ao meu particular
sem eu nem reclamar
Foi Ele, o Deus da par-essência
O Deus da essência par.
Não fosse a inteligência
da semelhança
seria só o meu amor
seria só a minha dor
bobinha e sem bonança
seria sozinha minha esperança
(madrugada onde fui acordada pelo poema no Rio de Janeiro, 10 de julho de 1994)
Elisa Lucinda
domingo, 28 de junho de 2015
UM CHEIRO DE VERDE, FRESQUINHO
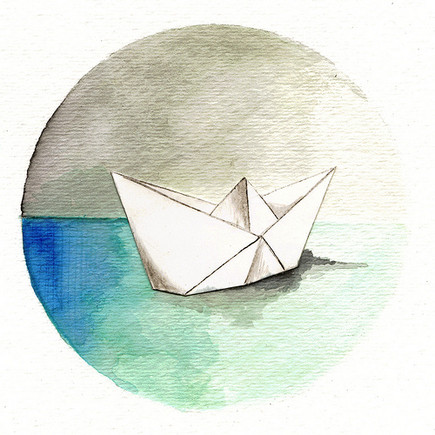
Um cheiro de verde, fresquinho,
viajando através da infância, no tempo.
A chuva, os barcos de papel,
o sol desenhado pela irmã caçula,
o cheiro da terra molhada.
O som de passarinhos que eu,
minino criado por vó,
não sabia os nomes, nem imitar.
Java, meu amigo de infância, sabia;
as mãos em concha, o sopro, o assovio.
Além de ser campeão de botão de mesa,
peão e o que mais viesse de brincadeira.
Quantos barquinhos foram naufragados?
Os sonhos são eternos enquanto não realizados?
As canções da infância ficaram perdidas
em alguma nuvem do cérebro.
Por que sou o que sou
e não o que desejaria ser?
Pudesse voltar no tempo...
Não, é melhor não.
Uma existência de dores, depressões
e guerras perdidas, já me basta!
Melhor um copo com uísque, gelo,
a voz de Maysa e apenas me emocionar,
eternamente... Até o relógio despertar.
sábado, 27 de junho de 2015
Soneto para Greta Garbo
(Em louvor da decadência bem comportada)
Entre silêncio e sombra se devora
e em longínquas lembranças se consome
tão longe que esqueceu o próprio nome
e talvez já não sabe por que chora
Perdido o encanto de esperar agora
o antigo deslumbrar que já não cabe
transforma-se em silêncio porque sabe
que o silêncio se oculta e se evapora
Esquiva e só como convém a um dia
despregado do tempo, esconde a tua face
que já foi sol e agora é cinza fria
Mas vê nascer da sombra outra alegria
como se o olhar magoado contemplasse
o mundo em que viveu, mas que não via.
Carlos Pena Filho
sexta-feira, 26 de junho de 2015
quinta-feira, 25 de junho de 2015
O apanhador de desperdícios

Uso
a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água, pedra, sapo.
Entendo bem o sotaque das águas.
Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim esse atraso de nascença.
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos,
como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água, pedra, sapo.
Entendo bem o sotaque das águas.
Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim esse atraso de nascença.
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos,
como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.
domingo, 21 de junho de 2015
As Fábulas Socialistas de Eisenstein

Por Stefano Pfitscher
O cineasta russo Sergei Eisenstein pregava que a arte deve ter uma função social. Em 2015, suas duas obras mais aclamadas, A Greve e O Encouraçado Potemkin, completam 90 anos de seu lançamento oficial. 90 anos desde que o mundo teve contato com os ideais construtivistas, as fábulas de Eisenstein e a técnica de montagem que mudaria para sempre o cinema.
Tido como um marco divisório do cinema mudo, O Encouraçado Potemkin, sobre uma rebelião em um navio soviético, ganhou fama por sua mensagem, qualidade técnica e, principalmente, por seu estilo inovador. Tanto é que, antes da consagração de Cidadão Kane (1941) e Um Corpo que Cai (1958), era o épico de Eisenstein que encabeçava as polêmicas listas de melhor filme de todos os tempos.
Porém, para entendermos melhor a relevância, tanto cinematográfica quanto social de O Encouraçado Potemkin, precisamos adentrar a mente construtivista de Sergei Eisenstein, entender a ideologia, a técnica, as análises – e que influência sua primeira experiência no cinema, A Greve, teve na criação deste mito da sétima arte.
A técnica construtivista
O construtivismo foi um movimento artístico surgido após a Revolução Russa que pregava um papel maior e mais útil do artista dentro da sociedade Industrialista. Utilizando conceitos claramente adaptados de Karl Marx, e que tendiam muito mais para as artes exatas, os construtivistas procuravam uma maneira de tornar a arte mais acessível a todos, procurando nela algo que pudesse contribuir e fazer parte do cotidiano do trabalhador. Segundo esta filosofia, “uma cadeira não difere em nada de uma escultura, e a escultura deve ser tão funcional como uma cadeira”.
Assim, Eisenstein – um dos nomes de mais destaque do movimento – uniu seus conhecimentos advindos da engenharia com os ideais de seus colegas e desenvolveu uma técnica de edição que mudou para sempre a sétima arte: a chamada montagem russa.
Mas o que é essa tal montagem russa, camarada?
Basicamente, trata-se de um processo que procura afrontar a fluidez narrativa dos filmes, onde uma imagem simplesmente segue outra para continuar a história. Na montagem de Eisenstein, uma justaposição de imagens não só pode completar uma transição, como pode gerar um novo contexto quando assistida em seqüência. A ideia de que um corte bruto numa cena pode dar em outra absolutamente diferente requer do espectador que ele as complete, que faça a ponte entre A e B em sua cabeça – o que ele atribuía como a pura essência do cinema: forçar o espectador a imaginar.
A parábola do operário
Ao concluir seu trabalho teórico, Eisenstein sentiu que precisava por em prática as técnicas que desenvolvera. Em 1923, ele dirigiu um curta de cinco minutos chamado O Diário de Glumov, que esteve desaparecido por décadas até ser resgatado entre um compilado de seu rival, Dziga Vertov, o pai do cinema-verdade.
No ano seguinte, 1924, obcecado com o ideal construtivista de colocar o cinema a serviço do povo, o diretor desenvolveu um ambicioso projeto em sete partes que pretendia contar a ascensão dos marxistas ao poder.
Como cabia ao Ministério da Cultura decidir quais filmes seriam produzidos a maioria dos longas procuravam enaltecer a recém criada União Soviética, é claro. Porém, por mais que estivesse trabalhando a favor da propaganda soviética – e não poderia ser diferente – o filme de Eisenstein aparentemente não agradou em todo a Josef Stalin e os capítulos seguintes do que se tornaria A Greve foram sumariamente vetados.
Iniciando uma tradição de usar incidentes históricos para ilustrar seus pontos de vista, Eisenstein reconta uma greve de operários ocorrida em 1903 quando os trabalhadores de uma fábrica russa se organizaram para reivindicar melhores condições empregatícias.
Em uma hora e vinte de filme, acompanhamos com atenção as causas, conseqüências e repercussões desta iniciativa tanto para os empregados quanto para seus patrões, enquanto o diretor pinta um retrato interessante dos sistemas de classe e do mundo pós-Revolução Industrial que pretende expor.
Os trabalhadores em greve, vítimas de abuso antes, durante e depois da greve, são retratados sob um olhar realista, salientando o conflito humano e a dor e miséria que carregam. Já os patrões são retratados como figuras quase cartunescas, com uma estética mais próxima do que se fazia na Alemanha expressionista do que no próprio cinema construtivista. A cena mais simbólicas dessa diferença de linguagem é a que mostra os glutões empregadores ao redor de uma mesa farta quando recebem uma carta com as reivindicações dos operários. Porém, o descaso dos patrões é tamanho que o papel apenas serve para limpar os sapatos de um deles.
Em uma das cenas mais desoladoras, um operário em greve tem que explicar para seu filho porque eles não tem mais comida em casa, só para perceber que o inflamado discurso revolucionário que sustentava ainda assim não justifica a fome de sua família. É claro que isso não significa de maneira alguma que Eisenstein se posicione contra a luta dos trabalhadores, apenas que ele está mais disposto a mostrar os dois lados da empreitada do que em fazer qualquer julgamento moral em relação a ela.
Ao final, quando os poderosos estão prestes a derrubar a greve, espionando e abusando da fraqueza dos operários, eles promovem um embate entre os trabalhadores e a polícia, que termina em uma sangrenta chacina. Na sequência mais conhecida do filme, Eisenstein alterna os oficiais brigando contra os homens, mulheres e crianças grevistas com cenas de um boi sendo abatido por um fazendeiro: uma das primeiras e mais simbólicas ocorrências de metáfora visual no cinema.
Tragédia na escadaria
Com o relativo sucesso de seu primeiro filme, Eisenstein imediatamente iniciou a produção de seu segundo filme, que seria lançado no mesmo ano, O Encouraçado Potemkin. Tendo como base outro incidente real, o diretor usaria as técnicas que aperfeiçoara em A Greve e criaria outra sequência tão ou mais rebuscada que a conclusão de seu filme anterior: o icônico massacre da escadaria de Odessa.
O clássico retrata um motim em um navio de guerra imperial e foi inspirado num evento real ocorrido na Rússia em 1905 quando um grupo de marinheiros revoltados pelo descaso de seus superiores se rebelou e tomou a embarcação. Esse acontecimento, que ilustra a luta de trabalhadores organizados contra a repressão burguesa, assim como a mal sucedida greve dos operários mostrada no longa anterior, foi considerado uma das sementes da Revolução de 1917 e por isso acabou transformado em propaganda do partido comunista.
Procurando ter certeza de que Stalin não guardara mágoas, os produtores fizeram questão de colorir a bandeira vermelha ostentada pela tripulação do filme após sua vitória. Como os processos de colorização ainda estavam longe de se popularizarem, artistas foram contratados para pintar frame a frame o celulóide da cena – isso é o quanto os produtores queriam mostrar a cor vermelha no filme. No fim, o truque parece ter dado certo: mais tarde o ditador admitiria que O Encouraçado Potemkim era um de seus filmes preferidos.
O grande trunfo de Potemkin, porém, é que, embora tenha sido produzido como propaganda para o regime, o filme está recheado de momentos que, independentemente, marcariam para sempre a sétima arte. A cena que narra o estopim do descontentamento dos marinheiros no deque, por si só, já é magnífica. Com centenas de figurantes representando os dois lados da hierarquia do navio, o diretor conduz a cena em grandes ângulos abertos, dando margem para acompanharmos cada grupo literalmente avançando e circundando o adversário, formando um impressionante balé da opressão.
E da mulher indo contra um exército para salvar seu filho, ao carrinho de bebê desgovernado, aos leões em frente à Ópera, a sequência da escadaria de Odessa, por si só, já é uma obra prima de direção e edição cinematográfica – o patamar máximo do processo de montagem de Eisenstein.
Nas décadas seguintes, O Encouraçado Potemkin – capitaneado pelo esplendor de sua sequência mais famosa – ganharia fama em todo o mundo, alcançando ícones da sétima arte como Charles Chaplin e Billy Wilder, que o consideravam seu filme preferido.
Sergei Eisenstein ainda dirigiria algumas dezenas de filmes, entre eles clássicos como “Outubro” (1927) e “Cavaleiros de Ferro” (1938), mas morreria em 1948 sem jamais desassociar seu nome do drama sobre o navio soviético.
*************************
Mas a verdade é que, mesmo sendo Potemkin o mais visualmente impressionante de Eisenstein, hoje, com quase um século de perspectiva sobre ele, fica difícil de desassociá-lo de seu antecessor. Analisando friamente, este clássico do cinema soviético até funciona como uma extrapolação artística de A Greve: uma extrapolação mais redonda, categórica e, como vimos, propagandística do drama dos operários – mas nem por isso mais interessante.
Enquanto em O Encouraçado Potemkin a lição é clara – lute por uma causa para atingir seus objetivos – A Greve lida com estes mesmos temas de maneira mais acinzentada (vide a ausência da cor vermelha neste). A própria conclusão de “A Greve” é exemplo disso, quando os revoltosos são massacrados pelos já articulados patrões, ao contrário do que ocorre em Potemkin, que termina com uma mensagem de esperança se propagando através de toda frota soviética. É como se Eisenstein estivesse sublinhando no primeiro que é louvável sim organizar-se em prol de um ideal, mas que isto, por si só, não é garantia de nada.
Em termos de mensagem, A Greve parece, em sua própria estrutura, mais capaz de comentar a situação que pretende. Como acompanhamos toda trama através dos oprimidos olhares dos marinheiros, não temos, emPotemkin um escopo tão rico das nuances sociais envolvidas no problema. Os comandantes do encouraçado são retratados apenas como vilões cruéis, como se fossem, por si só, a causa e conseqüência da injustiça e nunca tem suas motivações (um dos pilares da arte dramática) tão aprofundadas.
Isso difere de A Greve, já que nele, vemos todas as fases da cadeia de opressão, dos obedientes gerentes das fábricas aos glutões empregadores que representam os industriários. Além disso, o filme é perspicaz em mostrar – após o susto da primeira revolta – as maquinações destes para desarticular os grevistas e acabar com o sonho operário. Tanto é que, para tanto, os patrões utilizam de todo aparelho social que lhes é oferecido – um passo a passo interessante para entendermos como o Estado costuma lidar com esse tipo de situação. Por mais que a polícia também tenha função importante em Potemkin, onde aparece para acabar com a revolta de Odessa, é somente em A Greve que entendemos o papel da repressão física que ela representa nessa sociedade.
Mesmo tendo alcançado um papel menor nos livros de história do cinema, fica a impressão de que A Greve é a obra mais neutra e, portanto, mais abrangente, do início da carreira de Eisenstein. Utilizando um evento tão específico quanto a revolta de um grupo de trabalhadores rurais na Rússia da virada do século XX, o diretor fala a todos os povos que sofrem nas mãos do totalitarismo, enaltecendo o drama humano com que todos podemos nos identificar e a barbárie a que todos estamos sujeitos por acreditar em nossos ideais.
E nada disso é desmerecer o primor técnico de O Encouraçado Potemkin, com suas multidões de figurantes,close-ups revolucionários, e o que é considerado a aplicação final do conceito construtivista: a sequência na escadaria de Odessa.
Propaganda comunista e experimentação cinematográfica à parte, ambos filmes entram para a história como grandes obras de entretenimento, vide o sucesso internacional que alcançaram na época e o prestígio crítico que os manteve vivos até hoje.
Conhecendo Eisenstein como o teórico construtivista que era, é até possível dizer que o que ele trouxe para o cinema com esses filmes nada mais são que conceitos advindos de outro campo: a linguística. Além de incorporar a metáfora nas silenciosas imagens do cinema mudo, pode-se dizer que sua retratação de pequenos, mas denotativos, eventos podem muito bem ser vistos como fábulas cinematográficas para as mudanças sociais de sua época. Driblando a ausência de som, de cores, e a censura de um dos regimes mais rigorosos do século XX, ele teve de criar sozinho uma nova forma de se expressar visualmente, abrindo caminho para centenas de cineastas reforçarem ainda mais a capacidade do público de imaginar. Parece o bastante para o homem que só queria que seus filmes tivessem alguma relevância social.
Afinal, Sergei Eisenstein era, como as passagens que retratou, apenas a fagulha que dá início ao incêndio de uma revolução.
sábado, 20 de junho de 2015
sexta-feira, 19 de junho de 2015
Carta em que Fernando Pessoa esclarece a origem de seus heterônimos

Heterónimos de Fernando Pessoa, gravuras murais da Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa
A
genialidade com que Fernando Pessoa teria criado os seus heterônimos,
bem como a riqueza poética havida em cada um deles, sempre intriga e
instiga-nos à compreensão. A explicação abaixo é do próprio
Pessoa e certamente será esclarecedora.
[Carta
a Adolfo Casais Monteiro - 13 Jan. 1935]
Caixa
Postal 147
Lisboa,
13 de Janeiro de 1935.
Meu
prezado Camarada:
Muito
agradeço a sua carta, a que vou responder imediata e integralmente.
Antes de, propriamente, começar, quero pedir-lhe desculpa de lhe
escrever neste papel de cópia. Acabou-se-me o decente, é domingo, e
não posso arranjar outro. Mas mais vale, creio, o mau papel que o
adiamento.
Em
primeiro lugar, quero dizer-lhe que nunca eu veria «outras razões»
em qualquer coisa que escrevesse, discordando, a meu respeito. Sou um
dos poucos poetas portugueses que não decretou a sua própria
infalibilidade, nem toma qualquer crítica, que se lhe faça, como um
acto de lesa-divindade. Além disso, quaisquer que sejam os meus
defeitos mentais, é nula em mim a tendência para a mania da
perseguição. À parte isso, conheço já suficientemente a sua
independência mental, que, se me é permitido dizê-lo, muito aprovo
e louvo. Nunca me propus ser Mestre ou Chefe-Mestre, porque não sei
ensinar, nem sei se teria que ensinar; Chefe, porque nem sei estrelar
ovos. Não se preocupe, pois, em qualquer ocasião, com o que tenha
que dizer a meu respeito. Não procuro caves nos andares nobres.
Concordo
absolutamente consigo em que não foi feliz a estreia, que de mim
mesmo fiz com um livro da natureza de «Mensagem».
Sou, de facto, um nacionalista místico, um sebastianista racional.
Mas sou, à parte isso, e até em contradição com isso, muitas
outras coisas. E essas coisas, pela mesma natureza do livro, a
«Mensagem»
não as inclui.
Comecei
por esse livro as minhas publicações pela simples razão de que foi
o primeiro livro que consegui, não sei porquê, ter organizado e
pronto. Como estava pronto, incitaram-me a que o publicasse: acedi.
Nem o fiz, devo dizer, com os olhos postos no prémio possível do
Secretariado, embora nisso não houvesse pecado intelectual de maior.
O meu livro estava pronto em Setembro, e eu julgava, até, que não
poderia concorrer ao prémio, pois ignorava que o prazo para entrega
dos livros, que primitivamente fora até fim de Julho, fora alargado
até ao fim de Outubro. Como, porém, em fim de Outubro já havia
exemplares prontos da «Mensagem»,
fiz entrega dos que o Secretariado exigia. O livro estava exactamente
nas condições (nacionalismo) de concorrer. Concorri.
Quando
às vezes pensava na ordem de uma futura publicação de obras
minhas, nunca um livro do género de «Mensagem»
figurava em número um. Hesitava entre se deveria começar por um
livro de versos grande — um livro de umas 350 páginas — ,
englobando as várias subpersonalidades de Fernando Pessoa ele mesmo,
ou se deveria abrir com uma novela policiária, que ainda não
consegui completar.
Concordo
consigo, disse, em que não foi feliz a estreia, que de mim mesmo
fiz, com a publicação de «Mensagem».
Mas concordo com os factos que foi a melhor estreia que eu poderia
fazer. Precisamente porque essa faceta — em certo modo secundária
— da minha personalidade não tinha nunca sido suficientemente
manifestada nas minhas colaborações em revistas (excepto no caso
do Mar
Português parte
deste mesmo livro) — precisamente por isso convinha que ela
aparecesse, e que aparecesse agora. Coincidiu, sem que eu o planeasse
ou o premeditasse (sou incapaz de premeditação prática), com um
dos momentos críticos (no sentido original da palavra) da
remodelação do subconsciente nacional. O que fiz por acaso e se
completou por conversa, fora exactamente talhado, com Esquadria e
Compasso, pelo Grande Arquitecto.
(Interrompo.
Não estou doido nem bêbado. Estou, porém, escrevendo directamente,
tão depressa quanto a máquina mo permite, e vou-me servindo das
expressões que me ocorrem, sem olhar a que literatura haja nelas.
Suponha — e fará bem em supor, porque é verdade — que estou
simplesmente falando consigo).
Respondo
agora directamente às suas três perguntas: (1) plano futuro da
publicação das minhas obras, (2) génese dos meus heterónimos, e
(3) ocultismo.
Feita,
nas condições que lhe indiquei, a publicação da «Mensagem»
, que é uma manifestação unilateral, tenciono prosseguir da
seguinte maneira. Estou agora completando uma versão inteiramente
remodelada do Banqueiro
Anarquista,
essa deve estar pronta em breve e conto, desde que esteja pronta,
publicá-la imediatamente. Se assim fizer, traduzo imediatamente esse
escrito para inglês, e vou ver se o posso publicar em Inglaterra.
Tal qual deve ficar, tem probabilidades europeias. (Não tome esta
frase no sentido de Prémio Nobel imanente). Depois — e agora
respondo propriamente à sua pergunta, que se reporta a poesia —
tenciono, durante o verão, reunir o tal grande volume dos poemas
pequenos do Fernando Pessoa ele mesmo, e ver se o consigo publicar em
fins do ano em que estamos. Será esse o volume que o Casais Monteiro
espera, e é esse que eu mesmo desejo que se faça. Esse, então,
será as facetas todas, excepto a nacionalista, que «Mensagem»
já manifestou.
Referi-me,
como viu, ao Fernando Pessoa só. Não penso nada do Caeiro, do
Ricardo Reis ou do Álvaro de Campos. Nada disso poderei fazer, no
sentido de publicar, excepto quando (ver mais acima) me for dado o
Prémio Nobel. E contudo — penso-o com tristeza — pus no Caeiro
todo o meu poder de despersonalização dramática, pus em Ricardo
Reis toda a minha disciplina mental, vestida da música que lhe é
própria, pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a
mim nem à vida. Pensar, meu querido Casais Monteiro, que todos estes
têm que ser, na prática da publicação, preteridos pelo Fernando
Pessoa, impuro e simples!
Creio
que respondi à sua primeira pergunta.
Se
fui omisso, diga em quê. Se puder responder, responderei. Mais
planos não tenho, por enquanto. E, sabendo eu o que são e em que
dão os meus planos, é caso para dizer, Graças
a Deus!
Passo
agora a responder à sua pergunta sobre a génese dos meus
heterónimos. Vou ver se consigo responder-lhe completamente.
Começo
pela parte psiquiátrica. A origem dos meus heterónimos é o fundo
traço de histeria que existe em mim. Não sei se sou simplesmente
histérico, se sou, mais propriamente, um histero-neurasténico.
Tendo para esta segunda hipótese, porque há em mim fenómenos de
abulia que a histeria, propriarmente dita, não enquadra no registo
dos seus sintomas. Seja como for, a origem mental dos meus
heterónimos está na minha tendência orgânica e constante para a
despersonalização e para a simulação. Estes fenómenos —
felizmente para mim e para os outros — mentalizaram-se em mim;
quero dizer, não se manifestam na minha vida prática, exterior e de
contacto com outros; fazem explosão para dentro e vivo — os eu a
sós comigo. Se eu fosse mulher — na mulher os fenómenos
histéricos rompem em ataques e coisas parecidas — cada poema de
Álvaro de Campos (o mais histericamente histérico de mim) seria um
alarme para a vizinhança. Mas sou homem — e nos homens a histeria
assume principalmente aspectos mentais; assim tudo acaba em silêncio
e poesia...
Isto
explica, tant
bien que mal,
a origem orgânica do meu heteronimismo. Vou agora fazer-lhe a
história directa dos meus heterónimos. Começo por aqueles que
morreram, e de alguns dos quais já me não lembro — os que jazem
perdidos no passado remoto da minha infância quase esquecida.
Desde
criança tive a tendência para criar em meu torno um mundo fictício,
de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. (Não sei,
bem entendido, se realmente não existiram, ou se sou eu que não
existo. Nestas coisas, como em todas, não devemos ser dogmáticos).
Desde que me conheço como sendo aquilo a que chamo eu, me lembro de
precisar mentalmente, em figura, movimentos, carácter e história,
várias figuras irreais que eram para mim tão visíveis e minhas
como as coisas daquilo a que chamamos, porventura abusivamente, a
vida real. Esta tendência, que me vem desde que me lembro de ser um
eu, tem-me acompanhado sempre, mudando um pouco o tipo de música com
que me encanta, mas não alterando nunca a sua maneira de encantar.
Lembro,
assim, o que me parece ter sido o meu primeiro heterónimo, ou,
antes, o meu primeiro conhecido inexistente — um certoChevalier
de Pas dos
meus seis anos, por quem escrevia cartas dele a mim mesmo, e cuja
figura, não inteiramente vaga, ainda conquista aquela parte da minha
afeição que confina com a saudade. Lembro-me, com menos nitidez, de
uma outra figura, cujo nome já me não ocorre mas que o tinha
estrangeiro também, que era, não sei em quê, um rival do Chevalier
de Pas... Coisas que acontecem a todas as crianças? Sem dúvida —
ou talvez. Mas a tal ponto as vivi que as vivo ainda, pois que as
relembro de tal modo que é mister um esforço para me fazer saber
que não foram realidades.
Esta
tendência para criar em torno de mim um outro mundo, igual a este
mas com outra gente, nunca me saiu da imaginação. Teve várias
fases, entre as quais esta, sucedida já em maioridade. Ocorria-me um
dito de espírito, absolutamente alheio, por um motivo ou outro, a
quem eu sou, ou a quem suponho que sou. Dizia-o, imediatamente,
espontaneamente, como sendo de certo amigo meu, cujo nome inventava,
cuja história acrescentava, e cuja figura — cara, estatura, traje
e gesto — imediatamente eu via diante de mim. E assim arranjei, e
propaguei, vários amigos e conhecidos que nunca existiram, mas que
ainda hoje, a perto de trinta anos de distância, oiço, sinto, vejo.
Repito: oiço, sinto vejo... E tenho saudades deles.
(Em
eu começando a falar — e escrever à máquina é para mim falar —
, custa-me a encontrar o travão. Basta de maçada para si, Casais
Monteiro! Vou entrar na génese dos meus heterónimos literários,
que é, afinal, o que V. quer saber. Em todo o caso, o que vai dito
acima dá-lhe a história da mãe que os deu à luz).
Aí
por 1912, salvo erro (que nunca pode ser grande), veio-me à ideia
escrever uns poemas de índole pagã. Esbocei umas coisas em verso
irregular (não no estilo Álvaro de Campos, mas num estilo de meia
regularidade), e abandonei o caso. Esboçara-se-me, contudo, numa
penumbra mal urdida, um vago retrato da pessoa que estava a fazer
aquilo. (Tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis).
Ano
e meio, ou dois anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida
ao Sá-Carneiro — de inventar um poeta bucólico, de espécie
complicada, e apresentar-lho, já me não lembro como, em qualquer
espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta mas nada
consegui. Num dia em que finalmente desistira — foi em 8 de Março
de 1914 — acerquei-me de uma cómoda alta, e, tomando um papel,
comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi
trinta e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza
não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca
poderei ter outro assim. Abri com um título, O
Guardador de Rebanhos.
E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei
desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase:
aparecera em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que
tive. E tanto assim que, escritos que foram esses trinta e tantos
poemas, imediatamente peguei noutro papel e escrevi, a fio, também,
os seis poemas que constituem a Chuva
Oblíqua,
de Fernando Pessoa. Imediatamente e totalmente... Foi o regresso de
Fernando Pessoa Alberto Caeiro a Fernando Pessoa ele só. Ou, melhor,
foi a reacção de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como
Alberto Caeiro.
Aparecido
Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir — instintiva e
subconscientemente — uns discípulos. Arranquei do seu falso
paganismo o Ricardo Reis latente, descobri-lhe o nome, e ajustei-o a
si mesmo, porque nessa altura já o via.
E, de repente, e em derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me
impetuosamente um novo indivíduo. Num jacto, e à máquina de
escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a Ode
Triunfal de
Álvaro de Campos — a Ode com esse nome e o homem com o nome que
tem.
Criei,
então, uma coterie inexistente.
Fixei aquilo tudo em moldes de realidade. Graduei as influências,
conheci as amizades, ouvi, dentro de mim, as discussões e as
divergências de critérios, e em tudo isto me parece que fui eu,
criador de tudo, o menos que ali houve. Parece que tudo se passou
independentemente de mim. E parece que assim ainda se passa. Se algum
dia eu puder publicar a discussão estética entre Ricardo Reis e
Álvaro de Campos, verá como eles são diferentes, e como eu não
sou nada na matéria.
Quando
foi da publicação de «Orpheu»,
foi preciso, à última hora, arranjar qualquer coisa para completar
o número de páginas. Sugeri então ao Sá-Carneiro que eu fizesse
um poema «antigo» do Álvaro de Campos — um poema de como o
Álvaro de Campos seria antes de ter conhecido Caeiro e ter caído
sob a sua influência. E assim fiz o Opiário,
em que tentei dar todas as tendências latentes do Álvaro de Campos,
conforme haviam de ser depois reveladas, mas sem haver ainda qualquer
traço de contacto com o seu mestre Caeiro. Foi dos poemas que tenho
escrito, o que me deu mais que fazer, pelo duplo poder de
despersonalização que tive que desenvolver. Mas, enfim, creio que
não saiu mau, e que dá o Álvaro em botão...
Creio
que lhe expliquei a origem dos meus heterónimos. Se há porém
qualquer ponto em que precisa de um esclarecimento mais lúcido —
estou escrevendo depressa, e quando escrevo depressa não sou muito
lúcido — , diga, que de bom grado lho darei. E, é verdade, um
complemento verdadeiro e histérico: ao escrever certos passos
das Notas
para recordação do meu Mestre Caeiro,
do Álvaro de Campos, tenho chorado lágrimas verdadeiras. É para
que saiba com quem está lidando, meu caro Casais Monteiro!
Mais
uns apontamentos nesta matéria... Eu vejo diante
de mim, no espaço incolor mas real do sonho, as caras, os gestos de
Caeiro, Ricardo Reis e Alvaro de Campos. Construi-lhes as idades e as
vidas. Ricardo Reis nasceu em 1887 (não me lembro do dia e mês, mas
tenho-os algures), no Porto, é médico e está presentemente no
Brasil. Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915; nasceu em
Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão
nem educação quase alguma. Álvaro de Campos nasceu em Tavira, no
dia 15 de Outubro de 1890 (às 1.30 da tarde, diz-me o Ferreira
Gomes; e é verdade, pois, feito o horóscopo para essa hora, está
certo). Este, como sabe, é engenheiro naval (por Glasgow), mas agora
está aqui em Lisboa em inactividade. Caeiro era de estatura média,
e, embora realmente frágil (morreu tuberculoso), não parecia tão
frágil como era. Ricardo Reis é um pouco, mas muito pouco, mais
baixo, mais forte, mas seco. Álvaro de Campos é alto (1,75 m de
altura, mais 2 cm do que eu), magro e um pouco tendente a curvar-se.
Cara rapada todos — o Caeiro louro sem cor, olhos azuis; Reis de um
vago moreno mate; Campos entre branco e moreno, tipo vagamente de
judeu português, cabelo, porém, liso e normalmente apartado ao
lado, monóculo. Caeiro, como disse, não teve mais educação que
quase nenhuma — só instrução primária; morreram-lhe cedo o pai
e a mãe, e deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos
rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia-avó. Ricardo Reis, educado
num colégio de jesuítas, é, como disse, médico; vive no Brasil
desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É
um latinista por educação alheia, e um semi-helenista por educação
própria. Álvaro de Campos teve uma educação vulgar de liceu;
depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, primeiro
mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem ao Oriente de
onde resultou o Opiário.
Ensinou-lhe latim um tio beirão que era padre.
Como
escrevo em nome desses três?... Caeiro por pura e inesperada
inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo
Reis, depois de uma deliberação abstracta, que subitamente se
concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito impulso para
escrever e não sei o quê. (O meu semi-heterónimo Bernardo Soares,
que aliás em muitas coisas se parece com Álvaro de Campos, aparece
sempre que estou cansado ou sonolento, de sorte que tenha um pouco
suspensas as qualidades de raciocínio e de inibição; aquela prosa
é um constante devaneio. É um semi-heterónimo porque, não sendo a
personalidade a minha, é, não diferente da minha, mas uma simples
mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a afectividade. A
prosa, salvo o que o raciocínio dá de ténue à minha, é igual a
esta, e o português perfeitamente igual; ao passo que Caeiro
escrevia mal o português, Campos razoavelmente mas com lapsos como
dizer «eu próprio» em vez de «eu mesmo», etc., Reis melhor do
que eu, mas com um purismo que considero exagerado. O difícil para
mim é escrever a prosa de Reis — ainda inédita — ou de Campos.
A simulação é mais fácil, até porque é mais espontânea, em
verso).
Nesta
altura estará o Casais Monteiro pensando que má sorte o fez cair,
por leitura, em meio de um manicómio. Em todo o caso, o pior de tudo
isto é a incoerência com que o tenho escrito. Repito, porém:
escrevo como se estivesse falando consigo, para que possa escrever
imediatamente. Não sendo assim, passariam meses sem eu conseguir
escrever.
Falta
responder à sua pergunta quanto ao ocultismo (escreveu o poeta).
Pergunta-me se creio no ocultismo. Feita assim, a pergunta não é
bem clara; compreendo porém a intenção e a ela respondo. Creio na
existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses
mundos, em experiências de diversos graus de espiritualidade,
subtilizando até se chegar a um Ente Supremo, que presumivelmente
criou este mundo. Pode ser que haja outros Entes, igualmente
Supremos, que hajam criado outros universos, e que esses universos
coexistam com o nosso, interpenetradamente ou não. Por estas razões,
e ainda outras, a Ordem Extrema do Ocultismo, ou seja, a Maçonaria,
evita (excepto a Maçonaria anglo-saxónica) a expressão «Deus»,
dadas as suas implicações teológicas e populares, e prefere dizer
«Grande Arquitecto do Universo», expressão que deixa em branco o
problema de se Ele é criador, ou simples Governador do mundo. Dadas
estas escalas de seres, não creio na comunicação directa com Deus,
mas, segundo a nossa afinação espiritual, poderemos ir comunicando
com seres cada vez mais altos. Há três caminhos para o oculto: o
caminho mágico (incluindo práticas como as do espiritismo,
intelectualmente ao nível da bruxaria, que é magia também),
caminho místico, que não tem propriamente perigos, mas é incerto e
lento; e o que se chama o caminho alquímico, o mais difícil e o
mais perfeiro de todos, porque envolve uma transmutação da própria
personalidade que a prepara,
sem grandes riscos, antes com defesas que os outros caminhos não
têm. Quanto a «iniciação» ou não, posso dizer-lhe só isto, que
não sei se responde à sua pergunta: não pertenço a Ordem
Iniciática nenhuma. A citação, epígrafe ao meu poema Eros
e Psique,
de um trecho (traduzido, pois o Ritual é
em latim) do Ritual do Terceiro Grau da Ordem Templária de Portugal,
indica simplesmente — o que é facto — que me foi permitido
folhear os Rituais dos três primeiros graus dessa Ordem, extinta, ou
em dormência desde cerca de 1881. Se não estivesse em dormência,
eu não citaria o trecho do Ritual, pois se não devem citar
(indicando a ordem) trechos de Rituais que estão em trabalho.
Creio
assim, meu querido camarada, ter respondido, ainda com certas
incoerências, às suas perguntas. Se há outras que deseja fazer,
não hesite em fazê-las. Responderei conforme puder e o melhor que
puder. O que poderá suceder, e isso me desculpará desde já, é não
responder tão depressa.
Abraça-o
o camarada que muito o estima e admira.
Fernando
Pessoa
1935. .......................................................................................................................................................
Escritos
Íntimos, Cartas e Páginas Autobiográficas . Fernando Pessoa.
(Introdução, organização e notas de Antoónio Quadros.) Lisboa:
Publ. Europa-América, 1986.
- 199.
1ª
publ. inc. in Presença , nº 49. Coimbra: Jun. 1937
Fontes:
3) Jornal
GGN
Assinar:
Comentários (Atom)


































