(Foto: Alfredo Cunha/Porto Editora)
Considerado o maior poeta português da
atualidade, o madeirense Herberto Helder, morto aos 84 anos em Cascais, poderia
ser ainda mais conhecido no mundo não fosse por uma característica singular:
não dava entrevistas nem se deixava fotografar. A foto que acompanha este post
é uma das poucas imagens conhecidas de Helder, e uma das últimas, feita por
insistência de seu editor em fevereiro deste ano.
Zeloso de que sua obra se mostrasse por si mesma,
só se conhece uma entrevista do poeta, publicada em 1968 na extinta revista Luzes da Galiza. E era, na verdade, uma
auto-entrevista onde Helder falava sobretudo do ofício de escrever. Em 1994,
foi agraciado com o prêmio Pessoa, uma das mais importantes do país, mas
recusou. Seu último livro, A Morte Sem Mestre, de 2014, veio acompanhado
de um CD onde se pode ouvir a voz do poeta que amava viver anônimo.
Se um dia destes parar não sei se não morro logo,
disse Emília David, padeira,
não sei se fazer um poema não é fazer um pão
um pão que se tire do forno e se coma quente ainda por entre
as linhas,
um dia destes vejo que não vou parar nunca,
as mãos súbito cheias:
o mundo é só fogo e pão cozido,
e o fogo é o que dá ao mundo os fundamentos da forma,
pão comprido nas terras de França,
pão curto agora nestes reinos salgados,
se parar não sei se não caio logo ali redonda no chão frio
como se caísse fundo em mim mesma,
a mão dentro do pão para comê-lo
–disse ela.
Em 1960, foi fichado pela ditadura de Salazar
enquanto visitava uma biblioteca em Castro Verde como suspeito de ter
“características comunistas” e de ser “inimigo das instituições”. Helder chegou
a se filiar ao PCP (Partido Comunista Português), mas não militou. Seu filho, o
jornalista e político Daniel Oliveira, foi do PCP e mais tarde se tornou um dos
fundadores do Bloco de Esquerda.
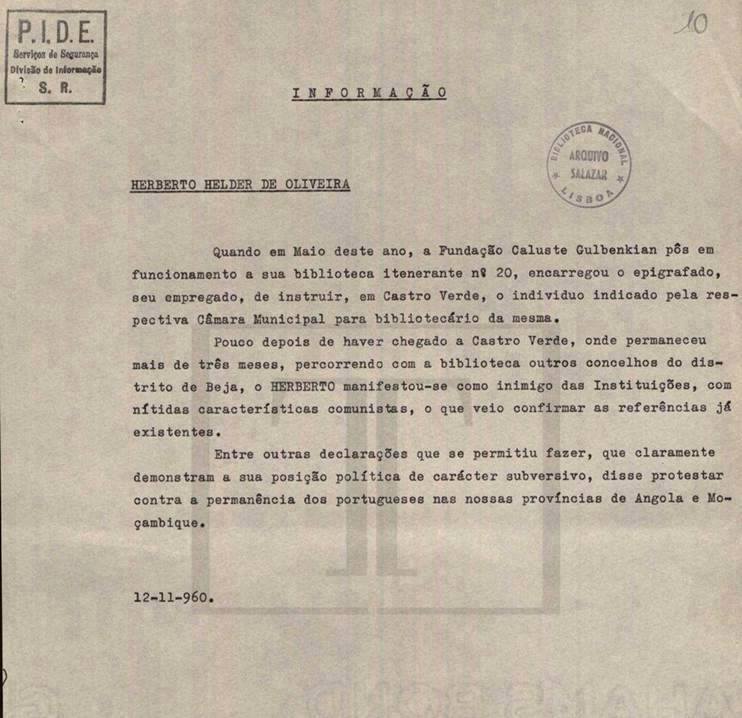
Abaixo, trechos da auto-entrevista (íntegra aqui) e um poema onde Herberto Helder
define como é escrever. Boa leitura.
“Um objeto pode ser útil ou decorativo, e a
poesia não o pode ser nunca” (Herberto Helder)
Escreve-se um
poema devido à suspeita de que enquanto escrevemos algo vai acontecer, uma
coisa formidável, algo que nos transformará, que transformará tudo. Como na
infância, quando se fica à porta de um quarto obscuro e vazio. Fica-se durante
um minuto uma brisa levanta-se nos confins da obscuridade: um redemoinho no ar,
uma luz, uma iluminação talvez? Estamos prontos para o assentimento. Outro
minuto, cinco, dez, ali, diante do anúncio suspenso e ameaçador: não acontece
nada. Poder-se-ia esperar um dia inteiro, dias seguidos. Às vezes para-se no
meio de um parque ou de um jardim ou de uma avenida deserta. São variantes do
quarto. Acontece o mesmo, quero dizer: não acontece nada. A suspeita apenas de
que nos aguarda uma espécie de graça reticente, um dom reticente. Ou
contempla-se um rosto, alguém que se ama, um ser imediato; ou então um rosto
desconhecido, defendido. Pensamos: é uma vida nova, uma força nova e profunda,
é uma paisagem misteriosa, profunda e nova que se relaciona intimamente
conosco: vai revelar-se. E a outra pessoa olha para nós perdida nas
perspectivas inquietas da nossa contemplação. E recomeça-se. O mesmo, sempre.
Nada.
Escrevi para
fornecer uma forma legível e apaziguadora para os momentos na porta do quarto,
no parque, na rua vazia, defronte do rosto aparecido. Escrevi para trás numa
espécie de engolfamento memorial. Não consegui nada, foi continuar no quarto,
no jardim, à frente das caras súbitas. Mas conheço agora a existência de uma
pergunta inesgotável que se formula, se assim posso dizer, pela objetivação dos
arredores evasivos, das alusões, dos sinais remotos.
Não se coloca o
tema da utilidade, porque, pergunto: em que âmbito é útil seja o que for? Interessa-me
este resultado: o de que em mim, expressando-se em gramática, em pauta, há uma
expectativa ardente, uma ardente pergunta sem resposta, uma perplexidade
ardente que me concedem um centro, um ponto de vista sobre a debandada das
coisas, coisas centrífugas para diante, nos dias, no caos dos dias, centrífugas
para trás, nos instantes mais densos da memória, átomos fosforecendo no caótico
fluxo da memória. E então eu sei: respiro nessa pergunta, respiro na escrita
dessa pergunta. Qualquer resposta seria um erro. Como eu próprio sugeri
algures: um erro das musas distraídas…
Quero eu dizer que
qualquer resposta seria uma arrogância, um erro para os resultados da ação. O
conceito célebre, o celebérrimo, de que um poema é um objeto –bom, tornou-se um
lugar comum, já nem sequer se pensa nisso, di-lo toda gente: os poemas são
objetos–, ora este conceito estabeleceu-se num terreno móvel, movediço, sim
objetos, mas como paramentos, ornamentos e instrumentos: as máscaras, os
tecidos, as peles e tábuas pintadas, os bastões, as plumas, as armas, as pedras
mágicas. É prático o uso que deles sempre se faz, uma resposta necessária ao
desafio das coisas ou à sua resistência e inércia. No entanto, repare, ou
atuamos nas zonas do quotidiano de onde não foi afugentado o maravilhoso ou
existem outras zonas, um quotidiano da maravilha, e então o poema é um objeto
carregado de poderes magníficos, terríficos: posto no sítio certo, no instante
certo, segundo a regra certa, promove uma desordem e uma ordem que situam o
mundo num ponto extremo: o mundo acaba e começa. Aliás não é exatamente um
objeto, o poema, mas um utensílio: de fora parece um objeto, tem suas
qualidades tangíveis, não é porém nada para ser visto mas para manejar.
Manejamo-lo. Ação, temos aquela ferramenta. A ação é a nossa pergunta à
realidade; e a resposta, encontramo-la aí: na repentina desordem luminosa em
volta, na ordem da ação respondida por uma espécie de motim, um deslocamento de
tudo: o mundo torna-se um fato novo no poema, por virtude do poema –uma
realidade nova. Quando apenas se diz que o poema é um objeto, confunde-se,
simplifica-se; parece realmente um objeto, sim, mas porque o mundo, pela ação
dessa forma cheia de poderes, se encontra nela inscrito; é registo e resultado
dos poderes. E temos essa forma: a forma que vemos, ei-la: respira, pulsa,
move-se –é o mundo transformado em poder da palavra, em palavra objetiva
inventada, em irrealidade objetiva. Se dizemos simplesmente: é um objeto
–inserimos no elenco de emblemas que nos rodeia um equívoco melindroso, porque
um objeto pode ser útil ou decorativo, e a poesia não o pode ser nunca. É
irreal, e vive.
***
Sobre um poema
Um poema cresce inseguramente
na confusão da carne,
sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto,
talvez como sangue
ou sombra de sangue pelos canais do ser.
Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência
ou os bagos de uva de onde nascem
as raízes minúsculas do sol.
Fora, os corpos genuínos e inalteráveis
do nosso amor,
os rios, a grande paz exterior das coisas,
as folhas dormindo o silêncio,
as sementes à beira do vento,
– a hora teatral da posse.
E o poema cresce tomando tudo em seu regaço.
E já nenhum poder destrói o poema.
Insustentável, único,
invade as órbitas, a face amorfa das paredes,
a miséria dos minutos,
a força sustida das coisas,
a redonda e livre harmonia do mundo.
– Em baixo o instrumento perplexo ignora
a espinha do mistério.
– E o poema faz-se contra o tempo e a carne.
***
LIVROS DO AUTOR PUBLICADOS NO BRASIL: O Corpo O Luxo A Obra (Iluminuras), Os Passos em Volta (Azougue) e Ou o Poema Contínuo (Girafa).

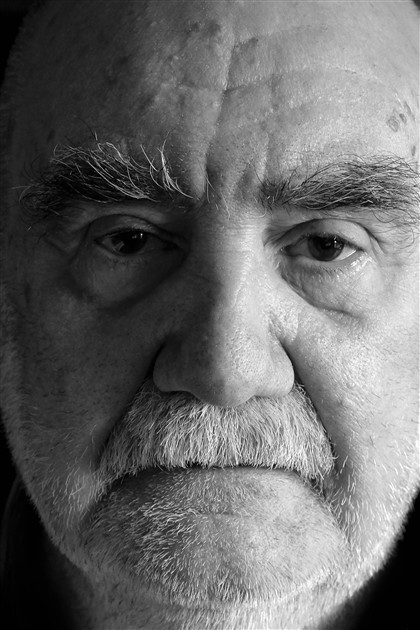
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Apenas comentários inteligentes. Palavras chulas ou xingamentos serão deletados.